A judicialização da política
Mídia Sem Máscara
| 22 Abril 2010
Artigos - Direito
"Os problemas começam quando o Judiciário entra em questões políticas próprias dos outros poderes, não por necessidade e imposição constitucional, senão pela mera conveniência judiciária e em nome da "dignidade da pessoa humana". É o que afirma Marcus Boeira no artigo que inicia a série Anatomia do Processo Político Brasileiro.
"Eles podem não gostar do direito que encontram- este pode exigir que despejem uma viúva na véspera do Natal, sob uma tempestade de neve-, mas ainda assim devem aplicá-lo. Infelizmente, de acordo com essa opinião popular, alguns juízes não aceitam essa sábia submissão; velada ou abertamente, submetem o direito a seus objetivos ou opiniões políticas. São estes os maus juízes, os usurpadores, os destruidores da democracia".
Ronald Dworkin- Law´s Empire
.
Sabemos que o processo político implica na conjunção das inúmeras relações e decisões oriundas de órgãos, poderes e instituições políticas e jurídicas do Estado. O processo político, assim, é definido tanto na Constituição, em seu amplexo de normas-princípios e normas-regras, quanto no direito ordinário, incluindo-se aí tanto as leis e atos normativos quanto os variados atos administrativos existentes. Assim, definimos processo político como sendo o próprio organograma do Estado em sua morfologia interna corporis.
Em nosso meio, o processo político vêm, nos últimos tempos, sendo cada vez mais esquecido e abandonado por parte de nossos juristas do momento. Os constitucionalistas, salvo os mais antigos, estão dando pouca ou nenhuma atenção ao grave problema da anatomia de nosso processo político. Por isso, nosso intento nos próximos artigos será o de encontrar problemas e soluções advindas da realidade de nosso processo político, seja em seu aspecto normativo, ou ainda no que tange ao arranjo de nossas instituições. Faremos uma longa abordagem da anatomia do processo político brasileiro em projeções temáticas, de forma a tratar de cada tema em cada artigo. Começaremos, assim, com o sempre problemático tema da separação dos poderes, particularmente com a questão da "análise pelo poder judiciário das questões políticas", o que o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho chama de judicialização da política.
Na separação clássica dos poderes, de acordo com a tradição herdada de MONTESQUIEU, o arranjo institucional dos poderes do Estado divide-se em três: o legislativo, o executivo do direito das gentes e o executivo do direito civil- judiciário (O Espírito das Leis, Livro XI, cap. 6). Nesse modelo, a separação dos poderes e, assim, o sistema de checks and balances, é baseado na noção de controle recíproco entre órgãos a partir de uma separação por funções. É dizer: as funções de cada poder são distintas, cabendo a cada um realizar sua própria função, o que por si só já garantiria um arranjo de controles recíprocos. Tal esquema, hoje superado, não tem mais lugar na atualidade por sua insuficiência diante de um Estado progressivamente interventor e burocraticamente crescente em fins e atividades. No entanto, o modelo clássico supracitado nos trás uma lição perene: o de que, não obstante o modelo de divisão do poder que se tenha, o fator de equilíbrio é sempre o modo como se faz o "controle".
KARL LOEWENSTEIN, em sua Teoria da Constituição, elucida que todo o sistema jurídico-político da democracia constitucional consiste em definir sua anatomia a partir do controle - policy control. O controle sempre foi e sempre será, no que tange às instituições do Estado, o aspecto fundamental. Sim, pois todo o organismo político estatal encontra no elemento controlativo sua garantia e estabilidade. O controle define não o que cada um pode, mas exatamente o contrário: o que cada poder não pode fazer. Diria MONTESQUIEU que "todo poder precisa de limites".
No Brasil, frente o anacronismo do modelo clássico, foi necessária a elaboração de uma alternativa compatível com o modelo atual de Estado existente. Assim, duas eram as saídas possíveis: ou migrávamos para uma separação de poderes com maior número de poderes, de modo a fazer existir um poder para cada nova função do Estado contemporâneo (como fizeram alguns países europeus) ou continuávamos com a tripartição clássica, rearranjada aos condicionamentos da atualidade.
Não obstante as críticas existentes à esse modelo (as quais me insiro como um propagador), fato é que adotamos o modelo clássico, adaptado às condições atuais. Para isso, idealizou-se uma tripartição, em que cada poder teria funções típicas e funções atípicas, ou seja, funções que lhe são próprias e funções correspondentes aos outros poderes, embora constitucionalmente delegadas para cada um frente a emergente necessidade institucional.
Assim, nosso legislativo administra e julga, nosso executivo legisla e até julga, nosso judiciário administra e legisla, tudo ao capricho de nossa Constituição de 1988. Até aí, nenhum problema!
O problema mesmo começa quando, em nome da "interpretação da Constituição", alguns agentes dos poderes arrogam-se em funções típicas de outros poderes sem o recurso direto à permissão da Constituição e das leis, é dizer, quando, ao bel prazer de suas pretensões, um juiz acredita poder interpretar a Constituição sem ter que aplicar a lei, fazendo assim o papel de legislador. Mais: quando o Judiciário entra em questões políticas próprias dos outros poderes, não por necessidade e imposição constitucional, senão pela mera conveniência judiciária e em nome da "dignidade da pessoa humana".
Atualmente, uma corrente do pensamento constitucional, não tão festejada lá fora, mas muito adotada no Brasil, vêm fazendo a cabeça de nossa intelligentsia jurídica: trata-se do neoconstitucionalismo. Sem expor o motivo puramente ideológico e falacioso do mesmo, o que farei oportunamente nos próximos artigos, fato é que o referido movimento professa uma fé inabalável na capacidade do magistrado de, em nome da justiça, poder interpretar diretamente os princípios constitucionais sem o recurso primário à lei. Ou seja, a lei, enquanto produto da deliberação legislativa e, por isso, expressão da soberania popular, não é aplicada, mas afastada pelo mero convencimento do juiz em querer, em nome do que sua razão subjetiva acredita ser justiça, determinar o que um princípio da Constituição simboliza. Ora, tal situação é absurda: a lei não é presumivelmente inconstitucional, mas o contrário: o princípio da presunção de constitucionalidade das leis é princípio caro aos países de tradição jurídica legalista. O princípio da legalidade, segundo o qual a lei é o epicentro da ordem social e jurídica, promove uma verdadeira eficácia da Constituição a partir da especificação das atividades de cada um dos poderes: o executivo executando, o legislativo legislando e o judiciário julgando, afora as atividades decorrentes das funções atípicas. Se o juiz pode deixar de aplicar a lei, então estamos a dizer que em nome do que cada magistrado acredita ser a justiça, não é mais necessário que a lei, enquanto expressão da soberania popular, exista, podendo-se extinguir o poder legislativo. Basta! Sabemos que, se a lei é o fundamento inicial da ordem, o é não apenas por ser comando estatal para solução de conflitos, mas principalmente por ser expressão original da democracia.
Entre nós, o chamado (neo)constitucionalismo produz uma alteração substantiva nessa realidade de nosso constitucionalismo: o de que as atividades de cada poder são secundárias frente à atividade do judiciário: o juiz é maior que o legislador! As decisões judiciais podem ignorar as leis em nome da Constituição. Podem, os magistrados, arrogarem-se na função de aplicar diretamente os princípios da Constituição sem a "democrática" intermediação da lei, produto da soberania popular. De uma democracia, caminhamos para uma oligarquia dos juízes!
Claro que, se admitirmos que os juízes podem não aplicar a lei em nome da Constituição, que abertamente pode aceitar um nexo de possibilidades interpretativas sem fim, também estaremos a dizer que a função típica do legislativo não importa muito: basta o judiciário para definir o que deve ser e o que não deve ser na vida social. A lei não importa. Legisladores eleitos democraticamente não interessam; o que interessa é a decisão judicial.
A antiga problematização da análise pelo poder judiciário das questões políticas, que ecoou tantas e tantas discussões nos bancos em que sentaram Rui Barbosa, Aliomar Baleeiro, Seabra Fagundes ou Alexandre Corrêa, não encontra mais nenhuma barreira: o juiz pode tudo, até mesmo definir políticas públicas, tarefas explicitamente típicas dos poderes executivo e legislativo. E o STF possui inúmeras decisões nesse sentido!
Estamos vivenciando uma nova organização estatal, em que o poder judiciário é colocado acima dos demais, frente à carência de um poder moderador- para equilibrar a política constitucional- e de um tribunal constitucional- para equilibrar a justiça constitucional. Na ausência de uma Corte constitucional especializada, tal como àquelas dos países europeus, nosso Poder Judiciário, tradicionalmente vocacionado para resolver conflitos entre particulares com base na lei, têm se voltado para resolver conflitos entre si e os demais poderes com base na Constituição. Poderia alguém indagar: mas não é isso que define o controle de constitucionalidade? Eu responderia: o controle de constitucionalidade tem substrato na Constituição, sendo atividade prevista constitucionalmente, o que não acarreta problemas de legitimidade institucional!
Assim, temos um problema; se o judiciário pode, então, resolver qualquer contenda com base diretamente na Constituição, então cabem algumas perguntas: que posição constitucional ocupa o legislativo nesse novo esquema? Mais: e o governo, qual a garantia funcional de preservar sua atividade política? Ainda: o que resta para o conflito político, para as clivagens próprias da democracia, se o judiciário pode adentrar nessa área com toda "liberdade"?
A existência de um judiciário "democrático" é apenas um jargão politicamente correto que nossa atual classe jurídica dominante elegeu como rótulo. Na realidade, o judiciário só é um poder "democrático" "indiretamente", pois nossos juízes não são eleitos, mas conduzidos ao cargo por concurso. A democracia implica em que haja um espaço para a política e outro para o direito, de modo que o jurídico limite o político. Porém, limitar não significa anular. O que está acontecendo, sob os auspícios do chamado (neo)constitucionalismo, é a anulação da política pelo direito, ou melhor, uma judicialização da política, de maneira que o poder judiciário incorporou para si funções e atributos próprios dos outros poderes, em nome da interpretação dos princípios. Por isso, a anatomia de nosso processo político demanda duas situações: ou acabamos com o modelo promulgado na Constituição e partimos para uma reforma política de verdade, em que cada poder ocupe seu lugar sem máculas, ou continuamos com esse modelo inadequado e sofreremos cada vez mais às amarguras do governo dos juízes!





























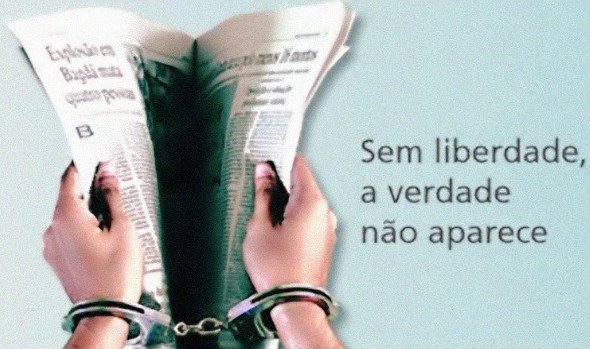
Postar um comentário