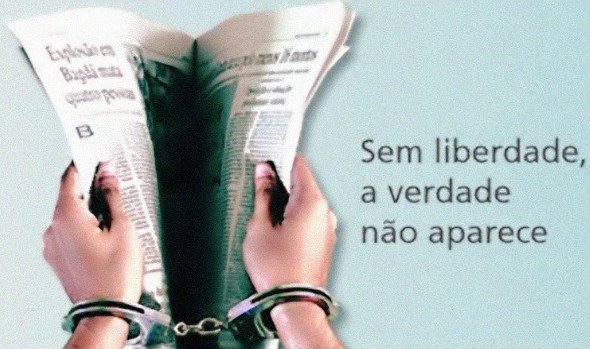Mídia Sem Máscara
Félix Maier | 28 Fevereiro 2011
Internacional - Oriente Médio
O Facebook derrubou o faraó? De certa forma sim, considerando o relevante papel dessa rede social, para reunir os manifestantes que pediam a queda do ditador. Se Mubarak, ao renunciar, não passou ou não conseguiu passar a presidência a seu substituto constitucional, o fato é que houve simplesmente mais um golpe militar e ponto.
Os recentes acontecimentos observados no Egito e outros países árabes foram descritos pela revista Istoé como as "Revoluções pela Internet". No Egito, a queda de braço entre os manifestantes e Hosni Mubarak, desde o dia 25 de janeiro, ocasionou a renúncia do presidente no dia 11 de fevereiro, após um saldo de mais de 300 mortos.
Tudo começou na Tunísia, quando um vendedor ambulante ateou fogo ao próprio corpo, em protesto contra a truculência da polícia. As redes sociais, como o Facebook e o Twitter - além dos telefones celulares - foram os principais meios utilizados para reunir os manifestantes tunisianos e culminou na renúncia do presidente Zine El-Abidine Ben Ali, que fugiu para o exílio após surrupiar o erário. Num efeito dominó, os "anseios da rua árabe" se alastraram ao Marrocos, Mauritânia, Iêmen, Omã, Egito, Sudão, Líbia, Jordânia, Argélia e Bahrein, com reflexos até na Tailândia e no Irã. O regime comunista da China tratou de apagar a palavra "Egito" nas pesquisas do Google. Segundo a ONU, já existem 2 bilhões de internautas e 5,3 bilhões de celulares em nosso planeta.
Eu, particularmente, torço para que ocorra uma "revolução" similar em Cuba. Infelizmente, isso é praticamente impossível, já que na Ilha a internet é precária e censurada, com serviço regular só disponível para os que lá vão fazer turismo, incluindo o sexual, como ocorre com os petistas e tipos como o ator Jack Nicholson, que ficam encantados com aquele país, que se deliciam com tragos demojitos antes e baforadas de havana depois de fogosas montadas nas jineteras locais...
A propósito, a blogueira cubana Yoani Sánchez, em artigo no Estadão (13/2), assim escreveu:
"A cena durou alguns segundos na tela, um clarão fugaz que nos gravou na retina a imagem de milhares de pessoas protestando nas ruas do Cairo. A situação era descrita pela voz empostada de um locutor cubano, que sustentava que a crise do capitalismo havia feito explodir o inconformismo no Egito e as diferenças sociais estavam afundando o governo. (...) A alusão entre nós à prolongada permanência no poder de Hosni Mubarak foi - como observa o cancioneiro popular - o mesmo que 'falar de corda em casa de enforcado' ".
A revista Época afirmou que se trata de "O grito árabe pela democracia". Entre os 22 países que compõem a Liga Árabe, apenas o Líbano tem um governo considerado democrático, embora precário - além do laboratório americano chamado Iraque, que ainda é uma incógnita. Pode até ser um grito pela democracia, embora seja uma democracia diferente da que conhecemos no Ocidente. O verdadeiro grito dessas massas é contra o desemprego, a miséria endêmica e a corrupção generalizada de governantes que vivem no luxo extremo, com contas secretas no exterior, e com o apoio de um sistema policialesco só visto em ditaduras. A gota d'água no Egito foi a intenção de Mubarak fazer seu sucessor o filho Gamal Mubarak, numa espécie de dinastia existente na Coreia do Norte e em Cuba.
O principal local das manifestações egípcias foi a Praça Tahrir, um nome bem sugestivo, pois significa "Libertação", onde também ficam o Museu Egípcio e o temido Ministério do Interior. Entre Tahrir e a torre da TV estatal fica a embaixada do Brasil, de onde, provavelmente, tivemos as primeiras imagens vistas no Brasil, restritas a um trecho da avenida Corniche El-Nil e ao local de atracação das barcas, nas margens do Nilo.
Os protestos iniciais, de 25 de janeiro, foram convocados no Facebook, pela página Somos Tudo o Que Khaled Disse, uma referência ao jovem Khaled Said, espancado até a morte por policiais em Alexandria, em junho de 2010. Outro grupo, também nascido no Facebook, em 2008, é o Movimento Jovem 6 de Abril, com origem na cidade fabril de Mahalla.
A reação do regime foi convocar partidários, que utilizaram cavalos e camelos para fustigar os manifestantes, além de atirar pedras e destroços do alto dos prédios. Esse ataque da "camelaria ligeira" foi o último ato que tentou salvar o faraó e irá passar à história como um fato burlesco do tipo "brancaleone".
O Egito, com cerca de 85 milhões de habitantes, é um país superpopuloso. Quase a totalidade dessa população habita os 4% de suas terras férteis - o Vale do Nilo e o Delta. O país é mais ou menos do tamanho do Pará. Imagine 85 milhões de pessoas vivendo às margens do Amazonas, dentro do Pará, incluindo a Ilha de Marajó!
O país importa 2/3 dos alimentos. Do Brasil importa, principalmente, carne bovina, frango e açúcar. Com um PIB de 180 milhões de dólares, as principais fontes de divisas fortes são obtidas pela cobrança de taxas dos navios que navegam pelo Canal de Suez, pelo turismo e pela exportação de petróleo e gás, em pequena quantidade.
O governo Hosni Mubarak era uma ditadura de fato sob uma roupagem democrática. O Egito (Misr, em árabe) é uma república presidencialista desde 1953. O Parlamento egípcio, unicameral, com 454 deputados, é chamado de Assembleia do Povo, uma denominação de origem socialista. De acordo com a Constituição de 1971, a cada 6 anos um candidato a presidente é apontado por pelo menos 1/3 dos deputados. Esse nome deve ser confirmado por pelo menos 2/3 dos parlamentares. Só um nome é apontado para ser escolhido em plebiscito pelo povo. Como o Partido Nacional Democrático, ao qual Mubarak pertencia, é o mais forte do país, este passou a ser indicado a presidente indefinidamente, desde a morte de Anwar Sadat, ocorrida em 1981. Com uma Lei de Emergência imposta ao Egito desde a morte de Sadat, Mubarak tinha amplos poderes sobre o país e as Forças Armadas, podendo dissolver o Parlamento quando quisesse. Tinha também direito de indicar 10 membros do Parlamento e nomear os dirigentes das governadorias (províncias) do Egito, compostos principalmente por militares de altas patentes. Mubarak era, de fato, um faraó, um Ramsés dos tempos modernos, como já havia escrito no livro de minha autoria, EGITO.
O Egito milenar, berço de nossa civilização junto com a Grécia, após as dinastias faraônicas foi dominado por diversos povos: persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, franceses, ingleses e turcos otomanos. Com a Revolução de 1952, promovida pelo Movimento dos Oficiais Livres, o Rei Farouk foi obrigado a abdicar em nome de seu filho, Fuad. Em 18 de junho de 1953, foi proclamada a República, presidida pelo general Muhammad Naguib. Em 1954, o coronel Gamal Abdel Nasser obriga Naguib a renunciar e assume o governo. Em 1956, depois da retirada das tropas britânicas do país, Nasser nacionalizou o Canal de Suez, ocasionando uma guerra contra Israel, que invadiu a Faixa de Gaza e o Sinai. Para implementar a paz, foram enviadas as Forças de Emergência das Nações Unidas (UNEF) na região, com participação de boinas azuis brasileiros, que chegaram em Port Said em 4 de fevereiro de 1957. Em 1958, o Egito, a Síria e o Iêmen formam a República Árabe Unida, que teve vida efêmera. O Egito viria a sofrer outra derrota humilhante, em 1967, na chamada Guerra dos Seis Dias, quando Israel novamente tomou a Faixa de Gaza e o Sinai, além das Colinas de Golã, na Síria. Nasser, apesar das derrotas militares, foi o maior líder do Egito moderno. Até hoje é considerado um mito naquele país.
Em 1970, assume a presidência Anwar Al-Sadat. Ao contrário de Nasser, que havia nacionalizado quase toda a produção egípcia, sob influência soviética, Sadat começa a introduzir no Egito a infitah, a abertura econômica, e começa a aproximação com o Ocidente, principalmente com os EUA. Em 1972, Sadat expulsa do país cerca de 20 mil "conselheiros" soviéticos. Vale lembrar que a represa de Assuã foi construída por Moscou.
O Egito e a Síria, com apoio dos países árabes, atacaram Israel no dia 6 de outubro de 1973, iniciando a Guerra do Ramadã, como é conhecida entre os egípcios, ou Guerra do Yom Kippur (Dia do Perdão), como é conhecida em Israel e no Ocidente. Essa guerra levantou a moral de todo o povo egípcio, devido às vitórias iniciais que quase varreram Israel do mapa. Hoje, no Egito, 6 de outubro é feriado nacional e nome de importante ponte sobre o Nilo no Cairo. Existe também a Cidade Seis de Outubro, criada em pleno deserto, ao sul do Cairo, onde existem vários complexos industriais para desafogar o Grande Cairo. As guerras contra Israel tornaram o Egito pobre e o êxodo rural aumentou espantosamente, inchando o Cairo, com protestos da população frente à carestia, gerando prisões em massa, em 1977. Desde então, as massas ficaram caladas, voltando às ruas somente neste início de ano.
Em 1979, Sadat assinou um Acordo de Paz com Israel, que redundou na devolução do Sinai, só efetivado em 1982. A Faixa de Gaza foi rejeitada pelo Egito, ficando esse pequeno território, altamente povoado e explosivo, sob administração israelense. Esse acordo, aliado à política econômica de Sadat, além de ter abrigado no país o deposto Xá do Irã, revoltou ainda mais os extremistas egípcios. Na parada militar de 6 de outubro de 1981, Sadat foi morto por um membro da Jihad Islâmica do Egito (do qual fazia parte o atual número 2 da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri), sob os gritos eufóricos: "Eu matei o faraó!" Além do Egito, só a Jordânia mantém um acordo de paz com Israel no mundo árabe.
Assume então a presidência o vice de Sadat, o marechal Hosni Mubarak, herói da Guerra do Ramadã, quando era comandante da Força Aérea. Ele procurou manter a linha político-econômica de Sadat e se tornou importante aliado dos EUA, que ainda remetem, a fundo perdido, cerca de US$ 1,5 bilhão por ano a este que é considerado o maior ativo estratégico da região. Um exemplo desse alinhamento com os americanos observou-se na Guerra do Golfo, em 1991, quando o Egito integrou as forças aliadas contra Saddam Hussein, que tinha invadido o Kuwait.
A rejeição contra Mubarak, nas últimas décadas, era maior por parte dos fundamentalistas islâmicos, como a Irmandade Muçulmana, que promoveram atentados às autoridades egípcias, aos cristãos coptas e, desde 1992, a turistas estrangeiros, como o observado no templo da rainha Hatshepsut, em Deir al Bahri, no Alto Egito, quando, em 1997, mais de 60 turistas foram metralhados pelo Grupo Islâmico. Outro ataque violento, reivindicado pel Al-Qaeda, com 88 mortos, foi contra um hotel de luxo no paradisíaco balneário de Sharm E-Sheikh, em 2006, no sul do Sinai, no Mar Vermelho, para onde Mubarak se refugiou após a renúncia. Durante seu governo, Mubarak sofreu uma dezena de atentados, incluindo um no exterior, em Adis- Abeba, em 1995. Com mão de ferro, Mubarak conseguiu neutralizar os ataques terroristas, enforcando muitos radicais islâmicos. No Egito, essa é a modalidade de pena de morte, normalmente aplicada a homicidas, traficantes de drogas e estupradores. Nessa empreitada repressiva, Mubarak teve a ajuda inestimável do chefe da temível Mukhabarat (camisa escura), o serviço secreto chefiado por Omar Suleiman, nomeado vice-presidente no início dos protestos egípcios.
Mubarak não conseguiu diminuir a pobreza no país, onde, diz-se, 50% da população vive com o equivalente a 2 dólares, nem conseguiu criar empregos para a massa humana que cresce 2 milhões a cada ano, deixando milhares de jovens sem perspectiva de melhoria de vida. A inflação e a taxa de desemprego são muito superiores aos índices oficiais, alardeados como 11% e 9%, respectivamente - uma manipulação comum em regimes autoritários. É um caldo extremamente favorável aos extremistas, como a Irmandade Muçulmana, que presta assistência social nos moldes do Hamas em Gaza, do Hezbollah no Líbano e da Al-Qaeda na Bósnia e no Afeganistão. Assim, compreende-se a apreensão do mundo democrático frente à possibilidade do Egito cair nas mãos dos clérigos sunitas, que têm por objetivo transformar o país numa teocracia regida estritamente pela Sharia, a exemplo do Irã e do Sudão. Por que não se observaram esses levantes nos ricos países do Golfo Pérsico, como o Kuwait e os Emirados? Porque lá a maioria da população tem uma vida decente e pouco se lixam para dinastias corruptas que governam há séculos.
Mubarak quase consegue realizar a proeza de um Ramsés II, que governou o Egito por ainda mais décadas. Só faltou o novo faraó morrer e ser mumificado. Porém, o povo egípcio se cansou do regime, que desde o início da República impôs 4 presidentes militares. Ocorre que os tempos são outros, não existem mais guerras contra Israel, nem ataques terroristas sendo perpetrados no país, apenas a guerra diária pela comida e por uma dignidade humana elementar.
Engana-se quem pensa que o Egito irá se tornar uma democracia. Isto não existe em nenhum país islâmico, a rigor nem mesmo no Líbano, um país que se tornou dividido e violento depois da guerra civil, onde uma milícia externa, o Hezbollah, com apoio da Síria e do Irã, tem grande representação parlamentar. Para haver democracia em um país, é necessário que haja ampla liberdade de opinião e respeito às diferenças étnicas, sociais e religiosas. O islamismo não prega o diálogo, mas o confronto. Não aceita a liberdade de culto religioso, porém tenta impor seu credo, eliminando os não-crentes. Prova disso são a emigração forçada de cerca de 25.000 judeus egípcios após a guerra de 1956 contra Israel, quando tiveram todos os bens confiscados, e os constantes ataques aos cristãos coptas, que têm suas lojas e suas igrejas incendiadas constantemente.
Provas da intolerância islâmica são os movimentos separatistas existentes na Chechênia, no Kosovo, no Sudão, na Cachemira. Os muçulmanos não se aculturam, porém sempre procuram impor sua cultura à força nos países para onde emigram. Por qualquer motivo, fazem levantes na França, onde já somam mais de 10 milhões de pessoas, com incitação à desordem promovida pelossheiks nas mesquitas, incendiando prédios e carros, embora tenham ampla rede de amparo social naquele país, principalmente educação e saúde. Cospem no prato em que comem. Eles não irão sossegar até o dia em que consigam transformar a Europa na Eurábia, pois não têm receio de portar placas, em suas passeatas, com os dizeres "um dia, o mundo inteiro será islâmico" nos países que os acolheram, como a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Bélgica e a França, principalmente.
Antigamente, o Catolicismo tinha um objetivo universal, de evangelizar todos os povos, muitas vezes à força. No século passado, esse objetivo foi perseguido pelo Movimento Comunista Internacional, que pretendeu socializar todos os meios de produção e escravizar todos os povos em nome do Leviatã estatal. Hoje é o Islamismo que tem esse objetivo estratégico, de criar um califado mundial, subjugando todos os povos aos preceitos de Alá. Um clérigo islamita falar em paz e cooperação com outras religiões é o mesmo que um petista falar em estado democrático de direito. É pura enganação.
John Laffin, no livro The Arab Mind, afirma: "A lei islâmica não reconhece a possibilidade de paz com descrentes e infiéis. A parte do mundo não-muçulmano é conhecida na teologia islâmica como território de guerra . A maior parte dos militantes muçulmanos acredita que a tarefa de Maomé não será bem-sucedida enquanto não-mu-çulmanos tiverem controle de qualquer parte do planeta". Ou seja, "território de guerra" é "território a ser conquistado".
Mubarak foi um herói nacional, tinha inicialmente um grande respeito da população. Porém, aproveitou-se disso para se perpetuar no poder, como verdadeiro ditador, tornando-se onipresente, com fotos em inúmeros outdoors, com apoio da máquina de triturar carne humana chamada Mukhabarat, livrando as Forças Armadas desse trabalho sujo. Por isso, o exército do Egito tem, ainda, uma força moral bastante elevada, necessária para comandar a transição para um novo governo.
O Facebook derrubou o faraó? De certa forma sim, considerando o relevante papel dessa rede social, para reunir os manifestantes que pediam a queda do ditador. Se Mubarak, ao renunciar, não passou ou não conseguiu passar a presidência a seu substituto constitucional, o fato é que houve simplesmente mais um golpe militar e ponto. O Conselho Supremo das Forças Armadas, presidido pelo antigo ministro da Defesa, Mohamed Hussein Tantawi - o preferido de Washington -, aboliu a Constituição, dissolveu o Parlamento, prometeu realizar eleições dentro de seis meses e retirou à força os últimos manifestantes da Praça Tahrir. Não aboliu a Lei de Emergência e vai governar mediante decretos. Com isso, as Forças Armadas se tornaram ainda mais poderosas no Egito, onde o Exército controla 30% do PIB.
O que vem pela frente é uma verdadeira esfinge egípcia a ser decifrada, já que o "democrata" Nobel da Paz que caiu de paraquedas na Praça Tahrir e se apresenta como o salvador da pátria, Mohamed El-Baradei, tem o apoio da Irmandade Muçulmana.
(*) O autor é militar da reserva e ensaísta. Viveu dois anos no Cairo, de 1990 a 92, e publicou EGITO - Uma viagem ao berço de nossa civilização, Thesaurus, Brasília, 1995. Alguns capítulos do livro podem ser lidos em http://www.webartigos.com/articles/519/1/Egito-Costumes-E-Curiosidades/pagina1.html, em 4 partes.